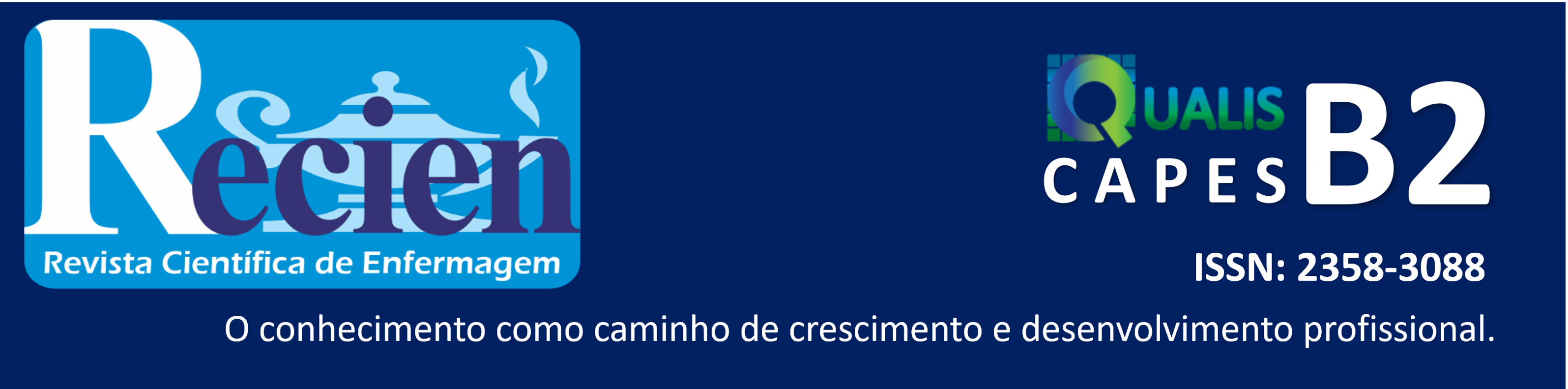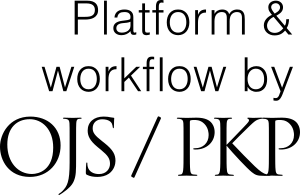Síndrome de Werdnig-Hoffman: aspectos patológicos e os saberes da enfermagem
DOI:
10.24276/rrecien2358-3088.2017.7.20.40-47Palavras-chave:
Enfermagem, Síndrome de Werdnig-Hoffmann, Atrofia Muscular EspinhalResumo
Objetivou-se descrever a Síndrome de Werdnig-Hoffmann, suas características funcionais, e o conhecimento dos profissionais de enfermagem diante do paciente portador de SWH. Trata-se de um estudo descritivo de revisão bibliográfica, produzida entre os anos de 2005 a 2016. Os dados foram coletados em revistas e periódicos disponíveis na internet, através de busca em base de dados indexadas na BVS: LILACS, SCIELO e ARCA (Repositório Institucional da FioCruz). A pesquisa revelou clinicamente que as Atrofias Musculares Espinhais (AME) compreendem quatro patologias classificadas de acordo com a idade de aparecimento dos sintomas e o grau do comprometimento motor. O tipo 1, denominado AME Infantil ou Síndrome de Werdnig-Hoffmann, objeto deste estudo, apresenta-se como forma mais grave da doença, manifesta-se precocemente entre o período pré-natal e os seis meses de vida ou imediatamente após o nascimento e caracteriza-se por grave comprometimento motor e respiratório. O estudo concluiu que a enfermagem tem papel relevante na abordagem do paciente portados de SWH, seja hospitalizado ou prestando cuidados e orientações em domicilio.
Downloads
Referências
Assega ML, Junior LCL, Assega DT, Lima RAG, Pirolo SM. Projeto terapêutico singular e equipe multiprofissional no manejo de caso clínico complexo: relato de experiência. Recife: Rev Enferm UFPE. 2015; 9(4):7482-8.
Nunes RG, Maschio JS, Fiss JP, Santos BN, Silveira RB. Síndrome de Werdnig-Hoffman - relato de caso. 2011.
Ferreira NMD. Síndrome de Werdnig-Hoffman, um relato de caso. Portal BioCursos.com 2012.
Chieia MAT. Doenças do neurônio motor. Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Rev Neurociências. 2005; 13(3).
Baioni MTC, Ambiel CR. Atrofia muscular espinhal: diagnóstico, tratamento e perspectivas futuras. Rio de Janeiro: J Pediatr. 2010; 86(4):261-270.
Saquetto MB, Oliveira IKS, Ferreira JB, Oliveira CPN, Silva CMS, Neto MG. Efeito e segurança da mobilização funcional em crianças com Síndrome de Werdnig-Hoffman: relato de caso. Rev Neurociência. 2015; 23(3):451-456.
Melo KTT. Síndrome de Werding-Hoffmann: perfil epidemiológico dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva do Distrito Federal. Brasília. 2012.
Cervo AL, Berviam PA. Metodologia Cientifica. 4.ed. São Paulo: Macron Books. 1996.
Gil AC. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas. 1999.
Chizzotti A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez. 1991.
Silva MCV, Przysiezny A, Capellani OJ. Síndrome de Werdnig-Hoffman (amiotrofia espinal do tipo 1): relato de caso. Arq Catarinenses Med. 2013; 42(1):96-99.
Silva CCP, Martins JN, Parenti MR, Bonezzi B, Catarim AWL, Filho ERC. Um relato de experiência na UTI pediátrica: caso de M. Centro Universitário Cesumar - UNICESUMAR. Editora CESUMAR. 2013.
Soares MI, Terra FS, Oliveira LS, Resck ZMR, Esteves AMSD, Moura CC. Processo de enfermagem e sua aplicação em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. Recife: Rev Enferm UFPE. 2013; 7(esp):4183-91.
Strasburg AC, Pintanel AC, Gomes GC, Mota MS. Cuidado de enfermagem a crianças hospitalizadas: percepção de mães acompanhantes. Rio de Janeiro: Rev Enferm UERJ. 2011; 19(2):262-7.
Chaves LDP, Laus AM, Camelo SH. Ações gerenciais e assistenciais do enfermeiro em unidade de terapia intensiva. Rev Eletrônica Enferm. 2012; 14(3):671-8.
Pessalacia JDR, Silva LM, Jesus LF, Silveira RCP, Otoni A. Atuação da equipe de enfermagem em UTI pediátrica: um enfoque na humanização. Rev Enferm Centro Oeste Mineiro. 2012; 2(3):410-418.
Coa TF, Pettengill MAM. A experiência de vulnerabilidade da família da criança hospitalizada em unidade de cuidados intensivos pediátricos. Rev Esc Enferm USP. 2011; 45(4):825-32.
Miranda AR, Oliveira AR, Toia LM, Stucchi HKO. A evolução dos modelos de assistência de enfermagem à criança hospitalizada nos últimos trinta anos: do modelo centrado na doença ao modelo centrado na criança e família. Rev Fac Ciênc Méd Sorocaba. 2015; 17(1):5-9.
Serafim CM, Lima CB. Unidade de terapia intensiva pediátrica, sob o olhar do acompanhante da criança hospitalizada. João Pessoa: Temas em Saúde. 2016; 16(3).
Ferreira CAG, Balbino FS, Balieiro MGFG, Mandetta MA. Presença da família durante reanimação cardiopulmonar e procedimentos invasivos em crianças. Rev Paulina Pediatr. 2014; 32.
Martinez EA, Tocantins FR, Souza SR. Comunicação e assistência de enfermagem a criança. Anais do Encontro Científico de Enfermagem do IFF/FIOCRUZ. 2010.
Vieira LMN, Silva CAN, Oliveira MS, Pimenta LCA. O impacto do cuidado domiciliar na evolução da síndrome de Werdnig-Hoffmann: relato de caso. Rev Méd Minas Gerais. 2012; 22(4):458-460.
Publicado
- Visualizações 2
- PDF downloads: 1